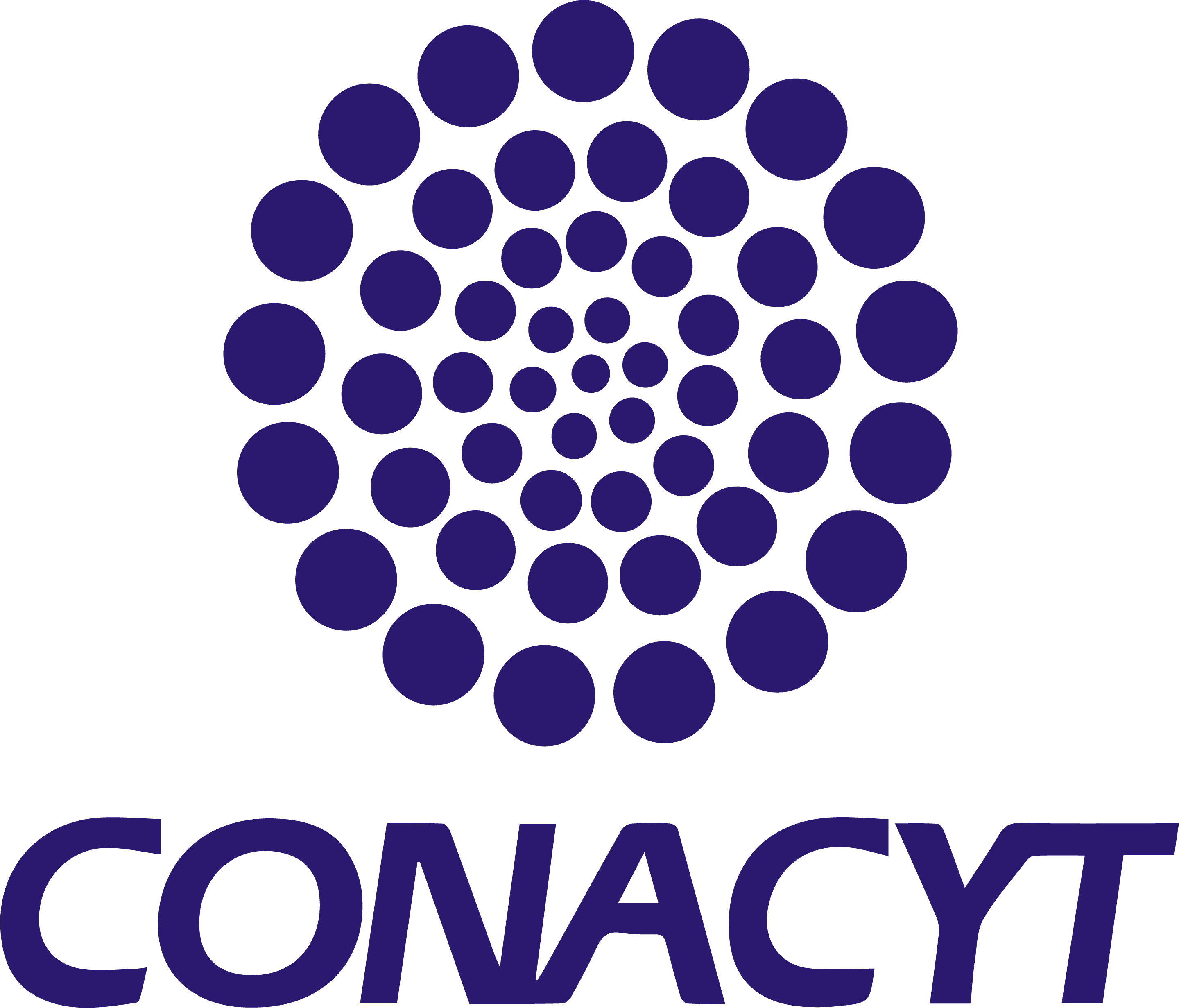A centralidade transgressora das mulheres nas comunidades de terreiro
The Transgressive Centrality of Women in Terreiro Communities
Guilherme Dantas Nogueira1
Tânia Mara Campos de Almeida2
Resumo: Objetiva-se dialogar com bibliografia clássica e recente sobre Mães de Santo e mulheres de terreiro, enfatizando seu papel histórico na formação calunduzeira brasileira, que se reflete no presente. Isso é feito a partir de levantamento bibliográfico sobre a liderança e a forte presença delas nas comunidades afrorreligiosas, em diálogo com campo etnográfico e vivencial que atualiza a bibliografia. Assim, argumenta-se pela centralidade histórica do papel e da liderança feminina em terreiros no Brasil e no exterior, particularmente no Candomblé. Reafirma-se a posição feminina subversiva ao status quo da ordem colonial-moderna ocidental, destacado por entidades espirituais e pelas Mães de Santo em seus próprios termos. Além disso, traz-se à tona nuances contemporâneas dessa questão relativamente antiga nas Ciências Sociais e ora recuperada, a partir dos lugares dessas interlocutoras enquanto autoridades, agentes legítimas de práxis e artefatos de sua realidade sociocultural
Palavras-chave: Calundus; Candomblé; Afrorreligiosidade brasileira; Mães de Santo; Terreiros.
Abstract: We aim to dialogue with classical and recent bibliography on Mothers of Saint and terreiro women, emphasizing their historical role in the Brazilian Afro-religious formation, which is reflected in the present. This is done from a bibliographic survey on their leadership and strong presence in terreiro communities, in dialogue with ethnographic and experiential field work, that updates the bibliography. Thus, we argue for the historical centrality of the role and leadership of women in terreiros in Brazil and abroad, particularly in Candomblé. We reaffirm the subversive feminine position to the status quo of the Western colonial-modern order, highlighted by spiritual entities and Mothers of Saint in their own terms. In addition, contemporary nuances of this relatively old issue in the Social Sciences are brought to light and now recovered, from the places of these interlocutors as authorities, legitimate agents of praxis and artifacts of their sociocultural reality.
Keywords: Calundu; Candomblé; Afro Religiosity; Mothers of Saint; Religious Communities.
Recibido: 22 de febrero de 2022
Aceptado: 8 de agosto de 2022
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2023.77.57546
Introdução
A religiosidade africana chegou às terras brasileiras por meio da tragédia humana do tráfico negreiro, que trouxe a esse país, de maneira forçada e para fins de trabalho escravo, milhões de pessoas entre 1550 e 1888. No Brasil, africanos e seus descendentes se reinventaram em meio a inúmeras adversidades, o que ocorreu por alianças e relações de solidariedade, trocas e aprendizados mútuos entre diferentes povos de África e ameríndios, com os quais dividiram cativeiro e várias situações de subjugação. Esse processo levou ao surgimento dos Calundus em tempos coloniais, que foram as primeiras manifestações religiosas afro-brasileiras, formando as bases para todas as demais até o presente (Souza 2002; Silveira 2006; Nogueira 2019, 2020).
Nos Calundus em geral (aderimos à noção de Calundu como substantivo genérico para manifestações coletivamente organizadas da religiosidade afro-brasileira (Almeida 2017), as mulheres sempre tiveram papel preponderante na sua constituição, estruturação cotidiana, perpetuação e desenvolvimento da espiritualidade. Particularmente no Candomblé, criado na Bahia, Brasil, entre os séculos xviii e xix, as mulheres são o eixo da vida do espaço sagrado (os terreiros), sejam fundadoras de cultos (as nações),3 curandeiras, lideranças, guardiãs das tradições ou cuidadoras de divindades, de suas comunidades e da energia vital (axé) de seus filhos. Sem a atuação delas, os Calundus não existiriam em termos tão instigantes e perturbadores da ordem socioeconômica, de gênero, orientação sexual e raça, há séculos e nas diversas regiões brasileiras e mesmo latino-americanas.
Esse tema não é novo nas Ciências Sociais e conta com variadas referências, aqui apresentadas e interpeladas por ângulos teóricos e empíricos originais, visto a inserção vivencial nesse campo socioantropológico por parte dos autores e a vitalidade desses estudos para a perspectiva feminista decolonial. O artigo reafirma a posição feminina transgressora ao statu quo colonial-moderno e ocidental, destacado pelas calunduzeiras em seus próprios termos, bem como traz à tona nuances contemporâneas dessa questão, a partir de lugares de fala de entidades espirituais e de Mães de Santo como autoridades, agências legítimas de práxis e artefatos da realidade sociocultural em que se inserem e co-constróem. Realidade erigida em contraposição, no passado, à ordem colonial e imperial, hoje, à ordem estatal que tem atuado para desmobilizar os terreiros enquanto forças políticas.
Dialogamos, assim, com bibliografia clássica e atual sobre Mães de Santo e mulheres de terreiro, enfatizando, justamente, seu papel histórico na formação calunduzeira brasileira, que se reflete no presente, como revelam experiências de caráter etnográfico junto a Mães de Santo. Em que pese o fato de que hoje se observem terreiros de diferentes religiões afro-brasileiras com homens à sua frente, a liderança feminina é histórica. Ou seja, existe a centralidade do feminino na estruturação da religiosidade afro-brasileira e da comunidade de terreiro, em particular, do Candomblé. Ao fazê-lo, advertimos a dicotomia moderno-ocidental, que opõe binariamente homens e mulheres, ser subvertida nos Calundus, que partilham concepção de que ambos, enquanto expressões do princípio feminino e masculino, são basilares à vida coletiva. A liderança feminina, portanto, é vista como autonomia, prestígio, liberdade para o exercício do poder e inteligência sócio-histórico-política, não como aversão aos homens e não nos moldes de equidade entre os gêneros estabelecidas pelas sociedades contemporâneas e ditas desenvolvidas na garantia dos direitos das mulheres.
Como ponto de partida, recuperamos a obra pioneira da antropóloga estadunidense Ruth Landes (1994), que morou na Salvador4 da década de 1930, convivendo nos terreiros da cidade e sendo auxiliada pela famosa Mãe Menininha do Gantois. Landes teve Edison Carneiro como informante e companheiro durante sua estadia (Andreson 2013), tendo ele acesso privilegiado aos terreiros por ser pesquisador dos Candomblés regionais e ogan suspenso5 por Mãe Aninha6 do Ilê Axé Opo Afonjá.7 A etnografia produzida por Landes, com apoio de Carneiro, é fundamental nesse debate.
Se, por um lado, a aproximação do objetivo posto se torna intrínseca às experiências existenciais, em especial do primeiro autor, favorecendo o seu diálogo com modelos analíticos das Ciências Sociais enquanto sujeito de conhecimento, não mero “nativo”; por outro lado, o cabedal conceitual e interpretativo acadêmico é aqui problematizado via informações e saberes que ecoam no interior de sua família de santo,8 referência calunduzeira no Brasil e no exterior. Esta reconhece o destaque das Mães de Santo e mulheres calunduzeiras, mesmo descendendo da linhagem de um Pai de Santo e possuindo, na posição de mentor espiritual, Pai Guiné de Aruanda. Esta antiga entidade, nominada por “preto-velho” por ter vivido como escravo, vem se manifestando em vários Calundus, na condição de antepassado mítico, desde os tempos coloniais e ainda segue orientando os passos de diversas gerações e terreiros de sua genealogia. Também ele estremece a dicotomia nós-eles da ciência, bem como a dicotomia passado-presente da linearidade temporal moderna-ocidental, na qual um ente desencarnado e do campo etéreo não seria um interlocutor qualificado.
Enfim, as observações etnográficas sobre comunidades de terreiro e suas Mães de Santo, descritas e analisadas nas páginas seguintes, não são consideradas apenas aquelas que derivam de pesquisas e entrevistas, mas também da memória que constitui a trajetória pessoal e familiar do primeiro autor. Trata-se de oferecer à sabedoria existencial, afetiva e iniciática, posição legítima de fonte de (re)aproximação e compreensão desse fato sociocultural, sem reduzi-lo a perspectivas devoradoras da alteridade pela episteme tradicional das Ciências Sociais, conforme Carvalho (1993) nos inspira. As próprias Mães de Santo e calunduzeiras, portanto, são vozes que, assim como recriam no agora e relançam ao futuro a tradição a que pertencem e a experienciam, a qual chamamos de perspectiva feminista decolonial, contribuem para dar novo sentido ao saber acadêmico sobre si mesmas e sua visada crítica do mundo.
A inscrição acadêmica da materialidade e agência das Mães de Santo
Várias informações que orientaram os estudos sobre mulheres no Candomblé foram apreendidas de Landes (1994). Destaca-se a classificação matriarcal dessa religião, posto que o comando dos principais terreiros identificados por ela era exercido por mulheres, particularmente os três mais prestigiados (à época de sua etnografia) da nação Ketu. Mãe Maximiana reinava na Casa Branca e suas duas principais filiais, os terreiros Gantois e Opo Afonjá, contavam com a liderança de Mãe Menininha e Mãe Aninha, respectivamente. O renomado Pai Bernardino comandava o Bate Folha, terreiro angoleiro que, no presente, é tombado como patrimônio histórico brasileiro, tal como os anteriormente citados. Embora contasse com o respeito e amizade de Mãe Menininha, que o chamava de irmão, seu Candomblé foi tido como inferior pela antropóloga, por não ser Ketu. Landes rejeitava as teorias racistas que embasaram o trabalho de Nina Rodrigues, principal referência a seu tempo nos estudos sobre os Candomblés. Mas, talvez influenciada por Carneiro, aderiu à noção de pureza nagô, valorizando apenas as casas que nutriam vínculos com a cultura iorubá (Lima 2003).
Além de serem regidos exclusivamente por mulheres, Landes (1994) documentou que iniciavam apenas a mulheres como rodantes (pessoas que incorporam divindades do panteão afro-brasileiro, via transe mediúnico). Homens eram iniciados como ogans, tendo como principal papel não ritualístico a proteção das comunidades (Carneiro 1969), papel por ela não explorado. Conforme depoimento do renomado babalaô9 Martiniano (Landes, 1994), Mãe Aninha fora a última a reger sua casa junto com um homem que, a exemplo dele, se ocuparia no lugar da Mãe de Santo do diálogo divinatório com as divindades afro-brasileiras. Todas as outras Mães de Ketu coetâneas a ela, e a maioria das que vieram depois,10 aprenderam o diálogo divinatório do jogo de búzios (conchas), que era comum entre as angoleiras, pelo que não mais dependiam de um homem para comunicar-se com suas divindades.
Os principais terreiros de Ketu eram quase exclusivamente femininos. Sendo os mais prestigiados da cidade, eram forte referência ao que deveria ser o Candomblé “correto”. Seria, então, uma religião matriarcal, cujos saberes principais eram transmitidos entre mulheres iniciadas. Para Carneiro (1969), terreiro que não seguisse tal padrão estaria deturpando a verdadeira tradição afrorreligiosa, que seria nagô.
A partir de extensa revisão bibliográfica e pesquisa recente em terreiros da Paraíba/Brasil, Bastos (2011) reitera a observação de Landes (1994): o Candomblé possui divisão sexual do trabalho (aspecto comum nos estudos que abordam a temática de gênero afrorreligiosa, sendo, neste sentido, também expoentes as obras de Segato e Birman). Trata-se de observação geral, que é por vezes subvertida em diferentes casas, e que, ademais, varia de peso entre diferentes Calundus e, no Candomblé, entre nações Angola, Jeje e Ketu. Ainda assim, há papéis rituais que apenas podem ser assumidos por pessoas de determinado sexo e são relevantes ao funcionamento dos terreiros e reprodução da tradição, o que acaba por confirmar a divisão sexual do trabalho.
Contudo, Bastos (2011) pondera, a exemplo das funções das mulheres na cozinha e dos homens no toque dos tambores, que esta seria uma atuação deles mais visível e prestigiosa, frente à posição simbólica subalterna delas. Isso se deveria, em parte, a sexismos e desigualdades machistas formalizadas pelas crenças religiosas nos terreiros.
Se a autora pensa em reedição patriarcal dos loci masculino e feminino e da respectiva discriminação equivalente à ordem ocidental, não estariam estas localizadas apenas na face dos terreiros voltada ao mundo externo? Além disso, não seria mais viável considerar a tradição não como essência, mas constituída também a partir de valores, referências e distinções entre os sexos biológicos oriundos de imposições coloniais e modernas, que não existiam na África ou nos primeiros Calundus? Onde estaria a autonomia das Mães e calunduzeiras para manejar a tradição?
É, portanto, questionável o exemplo da cozinha. Para lembrar as palavras de Azul de Oxum, mãe pequena do Calundu portenho Ilé Nueva Conciencia, entrevistada na Argentina em 2013 (Nogueira 2014) e em assunto retomado em 2018, “a cozinha é sagrada” nas religiões afro-brasileiras. Trata-se de lugar de máximo respeito, estrutural ao terreiro, cujo comando implica em controle sobre o axé de toda a casa, suas filhas e filhos. Ou seja, a cozinha pode ser pouco visível e mais silenciosa que os tambores —embora nunca passe despercebida, fazendo-se marcante por cheiros, comida ali preparada e partilhada entre humanos e deuses, sociabilidade estabelecida etc.—, mas não é lugar subalterno.
Pelo contrário, sendo o alimento e o alimentar-se fundamentais à religiosidade afro-brasileira e à vida das comunidades (Nascimento 2015), a cozinha é espaço essencial e é controlada pelas mulheres, que materializam a tradição não por reprodução estática e automática do passado, mas como fluxo histórico aberto às adversidades do presente e à resistência de um projeto coletivo de manter-se alteridade frente ao status quo vigente. Como exemplo desse fluxo aberto, notamos que Mãe Dinha, do Calundu Nanã Buruquê, do Distrito Federal, Brasil, destacou mulheres para os tambores e permitiu a adaptação de alimentos de divindades para filhos com adesão ao veganismo, o que normalmente é visto como tabu em outros terreiros. Igualmente, é emblemática a fala de Mãe Mabeji em 2016 no Rio de Janeiro, Brasil, ao declarar: “Na minha casa, mando eu!”, frente a exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para se arrolar terreiros no país (Nogueira 2019).
A crença e a práxis na comunidade de terreiro
A interpretação da vida dentro de uma comunidade de terreiro precisa levar em conta a complexa interrelação entre papéis sociais, rituais, identidades de gênero e sexualidades, ao contrário das dicotomias e exclusões coloniais-modernas (Segato 2003). Ademais, deve considerar a existência e importância de subversões ao status quo das sociedades ocidentais, que conferem diferentes níveis de importância a fatos aparentemente semelhantes àqueles de fora do terreiro, mas que internamente são significados de maneira distinta (Segato 2005; Birman 1995).
Além disso, o conhecimento mais minucioso sobre os detalhes do modo pelo qual se materializa cada uma das linhas da tradição não necessariamente é transmitido por completo aos filhos de santo, público externo e pesquisadores, o que abre espaço para interpretações diversas sobre a razão das coisas. Com efeito, em um Calundu sempre há algo novo a se aprender e entender, geralmente com as pessoas iniciadas há mais tempo, as entidades espirituais e as divindades.
Landes (1994) documentou que as candomblecistas eram costumeiramente solteiras e sexualmente mais liberais que as mulheres brancas da Bahia —católicas e ocidentalizadas. Isso, pois solteiras mantinham sua independência e devotavam-se a seus deuses. Casadas, tornavam-se juridicamente (nos termos do código civil nos anos 1930) subordinadas a seus maridos, muitas vezes homens desempregados, a quem terminavam tendo que sustentar (o trabalho nunca foi impedido às mulheres negras e pobres, que chegaram ao Brasil escravizadas ou eram suas filhas). Segato (2005) e Bastos (2011) lembram que o modelo familiar entre africanos e afro-brasileiros no país foi diferente do patriarcal português e teve vínculos de sangue e afetivos rompidos pela escravidão. Casamento não era instituição valorizada entre afro-brasileiras, tampouco seria demandado de pessoas das franjas da sociedade.
Mulheres solteiras, conforme Landes (1994), podiam escolher parceiros financeiramente mais estáveis ou, inclusive, variá-los. Podiam, também, escolher mulheres como parceiras. A homo e heterossexualidade não guardavam a mesma acepção colonial-moderna e a homossexualidade masculina e feminina não era repreendida nos terreiros; hoje, igualmente (Segato 2005; Carvalho 1998).
O comportamento sexual liberal das candomblecistas no início do século xx, aliado ao fato das mulheres optarem por não se casar e ao grande racismo religioso da época, provavelmente contribuíram para a classificação de promíscuos aos terreiros (Landes 1994; Birman 1995; Silveira 2006; Santos 2009). Landes indicou, em sua interpretação de tal comportamento, que essa era uma mostra de independência feminina, produto de inteligência estratégica que lhes blindava em alguma medida do jugo masculino. Esta interpretação, ademais da indicação etnográfica de forte presença de homossexuais, não foi bem aceita pelos principais pesquisadores sobre religiões afro-brasileiras daquele período todos homens. Ela terminou por ser taxada de pesquisadora marginal do tema, tendo sido publicamente criticada por expoentes do campo (Birman 1995; Andreson 2013; Hita 2014). Para Lima (2003: 2), “Landes foi vítima de uma perseguição masculina a uma mulher que tinha a pretensão de afirmar existir uma ‘cidade das mulheres’ —num mundo dos homens”. Andreson (2013) explica, contudo, que seu trabalho foi resgatado e a qualidade de suas afirmações vem sendo reiterada.
Birman (1995) explica que gênero, no que tange ao Candomblé, não deve ser visto como um conceito definido tal qual no mundo colonial-moderno. Há a possibilidade de transgressões, mutações e outras compreensões. Isso passa, inclusive, pelo fato de que reconhecem sexualidades transgressoras nos mitos dos orixás (Segato 2005), que são misturados frequentemente com ensinamentos sobre inquices ou voduns11 (embora não bastem para explicá-los). Bastos (2011), por sua vez, diz que comportamentos não modernos no que tange a gênero e aceitação de pessoas com “sexualidades marginais” são parte do modus operandi de comunidades candomblecistas, o que também estaria na raiz da discriminação às religiões afro-brasileiras. Para ela, o Candomblé é racializado, aceita orientações sexuais transgressoras e não trata a sexualidade como tabu.
Segundo Birman, em seu conjunto de obras, Landes postulava que o Candomblé era religião exclusivamente feminina, sendo a presença dos ogans uma exceção por ela não explorada. Em sua análise, todos os papéis desempenhados em um terreiro seriam femininos, pelo que, homens rodantes12 atuariam como mulheres, o que seria apenas possível em confronto à tradição nagô, conforme visão nagocêntrica da autora e de Carneiro —daí serem todos homossexuais. Tratar-se-ia de visão que assume estritamente as definições ocidentais de gênero pela antropóloga, o que impõe limites à sua análise da homossexualidade no Candomblé, mas que avança a partir de uma teoria de papéis sociais, que não foi superada por seus opositores. Essa teoria organiza as relações entre homens e mulheres nos terreiros, com primazia dessas sobre aqueles, via matriarcado, historicamente alicerçado nos primeiros Candomblés, cujos cultos seriam femininos. Assim, os papéis sociais nos terreiros seriam femininos, independentemente de quem os exerçam, em qualquer momento posterior (Birman 1995).
Carneiro aderiu à visão de Landes e foi um de seus grandes defensores (Birman 1995; Lima 2003; Andreson 2013). Entretanto, destacou mais a participação dos ogans no Candomblé, que seriam, em sua interpretação, homens performando como homens (Carneiro 1969). Ou seja, o Candomblé permaneceria uma religião com gênese e dinâmica femininas, mas contaria com a participação de homens desempenhando o papel de ogans. Todavia, conforme Birman (1995), o cientista social —também, Landes— apresenta uma visão derivada do que entende ser o objetivo do Candomblé: a incorporação das divindades, algo impossível àqueles. Portanto, o lugar que lhes é dado por Carneiro (1969) seria secundário face ao feminino rodante.
Carneiro, todavia, não compreendeu o relevante e complementar papel desses religiosos, talvez por ter sido ele próprio um ogan honorífico e que, provavelmente, não participava internamente de seu terreiro. Esta afirmação, em que pese o fato do primeiro autor deste artigo ser ogan, se confirma com a constatação êmica de que não é possível haver Candomblé sem ogans. Há atividades internas e públicas, como o toque de tambores e rituais relacionados com morte, dentre outras, secretas ou não, que apenas podem ser desempenhadas por esses religiosos, que quando ausentes em uma comunidade candomblecista chegam a ser contratados de outras e remunerados —prática comum em antigos Calundus coloniais (Silveira 2006; Nogueira 2017).
Carneiro (1969) registrou que cabe aos ogans o papel de protetores dos Candomblés. Esta é, inclusive, uma das razões para não entrarem em transe: precisam estar despertos para atuar. Landes (1994) acrescentou a isto que cabia a esses homens doar recursos financeiros a suas comunidades. Cargos honoríficos, muitas vezes, justificavam-se por essas razões: na colonial modernidade brasileira, misógina, eram os padrinhos prestigiosos e com acesso a recursos —seguem sendo— aliados de peso (Santos 2009). Mas nem todos os ogans são ricos e influentes fora de seus terreiros, o que mostra não serem dispensáveis e que a centralidade das mulheres não os exclui nem os desvaloriza, exatamente por se tratar de visão e modo de vida que emerge da confluência entre alteridades e convivência plural.
Ainda no que tange ao transe e aos diferentes papéis religiosos dentro de um Candomblé, cabe notar que Landes (1994), Carneiro (1969) e Birman (1995) negligenciaram uma figura central, cujo papel é, também, de relevância nos Candomblés: as mulheres que não incorporam —makotas (Angola) ou equedes (Jeje e Ketu). Essas atendem às divindades nas suas necessidades e mediam seu contato com as pessoas, o que implica em receberem cargos de respeito semelhante aos dos ogans —são mães, como aqueles são pais, também suspensas e confirmadas. A presença de uma makota em festa pública candomblecista chama menos a atenção que a das divindades incorporadas, ou dos ogans nos atabaques. Mesmo assim, sua importância nos cultos e sua liderança nas comunidades de terreiro não devem ser ignoradas.
Sobre a percepção de Landes e Carneiro que o objetivo do Candomblé é a incorporação (Birman 1995), cabe comentário. A incorporação é, de fato, parte importante da totalidade dos Calundus. É quando as divindades afro-brasileiras interagem em nível corpóreo com as comunidades que as cultuam. Todavia, não se pode considerar que seja o eixo fulcral dessas. O sentido existencial de uma comunidade candomblecista é a experiência histórica própria e afro-brasileira (Botelho; Nascimento 2010) —isso vale para todos os Calundus. A afrorreligiosidade, e com ela as incorporações, ocupam lugar central, como amálgama para a preservação e relançamento de tradição elaborada por séculos, entre tráfico negreiro, senzalas, fazendas, quilombos, centros urbanos e Calundus coloniais, na solidariedade de vários povos, inclusive indígenas, como forma de resistência às violências da diáspora africana. Crença, vivências do transe e modo de vida estão imbricados e são revelados nos inúmeros artefatos que compõem um terreiro e que estão constantemente em processo de reinvenção.
O debate sobre gênero em religiões afro-brasileiras não é completo sem atenção particular às reflexões de Segato (2005), que verificou em campo e foi capaz de propor uma original teoria sobre gênero, aplicável aos Calundus em geral. Para a autora, ao adentrar nessa discussão, precisase entender o desamparo a que o povo negro foi abandonado na diáspora e as condições tão adversas da escravidão no Brasil, por mais de 300 anos. A diáspora rompeu com os vínculos familiares africanos, forçando a separação de casais, isolando homens e mulheres e explorando a sexualidade sobretudo dessas pelos senhores. Dentre outras ações desumanizadoras, estas violências tinham a intenção de impedir a formação de alianças entre pessoas cativas, assim como impedir que se reproduzissem —a criação de crianças era mais dispendiosa que a compra de adultos. Pessoas escravizadas eram também vendidas entre regiões do Brasil, de acordo com os ciclos econômicos e fluxos produtivos, não podendo se ocupar com sua descendência. Além disso, homens escravizados existiam em muito maior número que mulheres e morriam em maior quantidade absoluta e relativa (Segato 2005; Bastos 2011).
Diante disso, Segato (2005) diz que modelos de referência de comportamento sexual foram excluídos do processo de socialização de africanos e afro-brasileiros. Amarras patriarcais puderam ser desatadas na luta pela libertação, em seu âmago, do devir e da força propulsora do desejo em continuar sendo alteridade neste continente. Constata, assim, a transitividade de gênero antes da difusão em larga escala das teorias contemporâneas a respeito da desessencialização dos sexos. Ou seja, no interior da comunidade religiosa, identifica um trânsito efervescente e nada ortodoxo entre papéis sociais, multirreferências na constituição da personalidade, organizações familiares, uniões conjugais e orientações sexuais. Trata-se da desconexão entre gênero e sexualidade, uma ruptura com a fixidez determinista e estereotipada com que a cultura colonialista ocidental os apresenta.
Experiências, enfim, gestadas a partir do esgarçamento da moldura cultural africana prévia e da não reprodução do modus operandi da cultura dominante, favorecendo o surgimento de uma simbólica genuinamente afro-brasileira e decolonial, mediante condições existenciais a serem refeitas do zero. O imbricamento entre o plano discursivo e o plano material da tradição apontou para a falácia da primazia de um deles.
No que tange aos diferentes Calundus, não serão, portanto, papéis rituais que oferecerão um modelo para o comportamento sexual de seus integrantes. Pelo contrário, ao passo que o sexo biológico é determinante para a divisão de papéis rituais —ogans serão biologicamente homens, makotas biologicamente mulheres etc.—,13 posições sociais e preferências sexuais não terão relação com esses. Consequentemente, o religioso de qualquer cargo ou papel ritual poderá em sua vida pessoal optar por se relacionar com o parceiro de sua preferência, sem implicar em alteração de suas atividades religiosas. Em síntese, a presença de homo e bissexualidade nos terreiros nenhuma relação tem com indicações de tradições religiosas, mas com a fundação e o desenvolvimento dos Calundus, que partilha da sina do povo escravizado no Brasil e rompe com a heteronormatividade pilar do patriarcado colonial/moderno. Esta conclusão, historicamente alicerçada, é, ademais, coerente com os ensinamentos de Pai Guiné de Aruanda (Nogueira 2016).
Outro ponto chama a atenção no trabalho de Landes (1994): Candomblés seriam os cultos afro-brasileiros de Salvador da década de 1930, inclusive porque todos eram identificados oficialmente como candomblecistas. Era necessário ter permissão policial para a realização de rituais, dentro ou fora dos terreiros, que era uma autorização para Candomblés. Entretanto, nem todos os rituais, em segunda análise, eram candomblecistas. A autora descreve, por exemplo, uma “festa da Mãe d’Água”, junto à comunidade do terreiro supostamente Angola da Mãe de Santo Sabina, que, todavia, identificava seu terreiro enquanto Candomblé de Caboclo (centrado no culto a indígenas brasileiros). Além disso, a Mãe teria sido iniciada em sonho —algo impossível para os modelos candomblecistas.
Esse dado não altera as conclusões de Landes. Mas indica que, mesmo na Salvador influenciada pelo peso simbólico do Candomblé e a tutela de famosas Mães de Ketu, outros Calundus encontraram sobrevida e eram marcados pela presença feminina. Eram marcados também, como ainda o são as comunidades candomblecistas, por uma dinâmica de organização interna baseada no domínio do doméstico, em que as mulheres são soberanas. O Candomblé não se trata, enfim, simplesmente de religião em que mulheres têm destaque. Muito além disso, é religião criada e organizada por mulheres, ordenada estruturalmente sobre uma lógica e valores da perspectiva feminista decolonial, diversa do mundo patriarcal, que não se esvai mesmo quando homens ocupam a cadeira de lideranças máximas, como Pais de Santo (Segato 2005; Birman 1995; Nogueira 2017, 2019), uma vez que revelam, assim, não estar o complexo de gênero associado ao plano anátomo-biológico dos corpos, mas a posições em feixes de relações sociais.
A excepcionalidade desse construto social não é apenas se erigir politicamente em contraponto ao patriarcado, à heteronormatividade, ao racismo e às desigualdades econômicas. O tratamento que foi conferido aos terreiros desde os anos 1970 mostra-se também original, especialmente na assinatura de Segato (1984). Afinal, naquele momento, não se falava de gênero na América Latina e o tema era incipiente no mundo, não se cogitava a possibilidade de contestação das mulheres não brancas e não se cruzava gênero com religião. Soma-se a isso o fato de que foi nas comunidades de terreiro que se pode observar empiricamente o que vieram a se tornar formulações teóricas do feminismo pós-estruturalista, desconstrucionista e decolonial (Almeida 2022).
No limiar dos muros do terreiro: espaços e esferas domésticas e públicas
Aprofundando o debate sobre esferas e espaços domésticos e públicos, Segato, ao tratar sobre grupos indígenas brasileiros, apontou para uma realidade também observável em comunidades candomblecistas:
o âmbito doméstico goza de mais prestígio e autonomia que na sociedade moderna, e ali se deliberam e encaminham decisões que afetam a reprodução da vida não somente doméstica, mas também do grupo como um todo. Nesse sentido, o que acontece no espaço doméstico é também político e tem impacto na vida da comunidade. Poder-se-ia dizer que o público e o doméstico são ambos políticos ou, melhor, que a política atravessa os dois (Segato 2003: 14).
Logo, nessas comunidades, é mais adequado se referir a “espaços” público e privado, não apenas a “esferas” pública e privada. Afinal, aqueles encontram-se imbricados e questões e decisões da ordem doméstica perpassam assuntos, interesses e atividades de todo o grupo, diferentemente da cisão entre as “esferas”, que confinam em si mesmas a unidade econômica e política de cada família e seus agregados. São as interações entre os “espaços” público e privado que impactam no vínculo das comunidades com o mundo externo, sejam outras comunidades, povos, Estado etc.
Segato (2003: 15) explica que, nas sociedades indígenas, apenas os homens “podem falar e representar o grupo doméstico no espaço público”. Embora essa determinação não exista nas comunidades de terreiro (e negras mulheres não possuem a mesma história no Brasil que indígenas mulheres), serão geralmente os homens, mormente ogans, designados como representantes no espaço público. Em alguns casos, mulheres de cargos altos acompanharão os ogans, ou serão acompanhadas por eles, e raríssimas vezes representarão suas comunidades sozinhas. Caso ilustrativo se refere à comunidade liderada pela Mãe Lídia de Oxum no Distrito Federal/Brasil, cuja filha Patrícia de Oxum é incumbida das relações travadas externamente. Cabe-lhe falar em nome da comunidade em diferentes ocasiões, inclusive junto ao Estado. Ela, contudo, se cerca e alia em ações públicas de diferentes ogans e outros religiosos, sejam de seu terreiro ou não, sempre buscando agir coletivamente.
Posada (2010), a partir de visão foucaultiana, acrescenta que espaços e suas conformações são definidos por sua localização geográfica e por sua temporalidade. Assim, no que tange ao espaço público (pensado como um construto sociológico, não como local físico), diz que não se trata de fenômeno social novo, pois existe desde momentos históricos passados. O debate se soma ao proposto por Segato (2003) e indica, uma vez mais, que é conforme as relações de poder hodiernas, da colonial modernidade, contexto em que Calundus e Mães de Santo se inserem no Brasil, que o espaço doméstico dos terreiros existe e pode ser descrito. E sendo este um espaço de decisão sobre as relações externas da comunidade (em termos explícitos, todas as decisões, sobre questões internas e externas, são tomadas domesticamente), balizadas, portanto, pela lógica do feminino. Reitera sua característica de espaço de resistência, em especial frente ao Estado (Nogueira 2019). Este, uma potência política difícil que, desde sua formação colonial na América Latina, segue se apresentando com discurso dúbio e violência contra grupos sociais subalternizados (Rufer 2015).
Como espaço doméstico (físico e construto social), uma comunidade de terreiro é uma casa extensa, liderada e representada pela Mãe de Santo. Tal casa se torna concreta a partir do terreno geográfico, ainda que não seja a residência da Mãe ou, quando é, possui separação entre locais de rituais e moradia. É, não obstante, onde se encontram materialmente os assentamentos14 da família religiosa, que são zelados pela Mãe de Santo —e isto é central para a vida religiosa dos candomblecistas. Neste sentido, inclusive, quando um religioso decide retirar dali seu assentamento, amigavelmente ou não, aquela divindade sai do círculo de cuidado e responsabilidade da Mãe e implica uma mudança de relações, com o filho já não mais pertencendo à casa, ainda que o parentesco religioso ou biológico não seja rompido. O fato, portanto, do terreiro abrir-se irrestritamente ao público —resguardando-se energeticamente, com rituais específicos, a entrada de pessoas indesejadas— não significa que seja um local sem regras e barreiras. Não é, tampouco, composto por pessoas aleatoriamente distribuídas em moradias em certa região, como um bairro moderno. O terreiro é casa única, mesmo que formada por edificações espalhadas em ampla área, do qual fazem parte, às vezes, unidades residenciais particulares de membros. Trata-se de unidade doméstica comandada pela Mãe, por onde seu axé, sua autonomia, sua marca identitária e de seus guias espirituais se estendem.
Em oposição a esse local, o mundo externo existe para fora do terreiro. Trata-se do espaço público propriamente dito da sociedade envolvente, em que se confundem a pertença e responsabilidade estatal com o construto sociológico citado por Posada (2010), no presente das cidades brasileiras e latinas. As regras de comportamento que fazem de uma Mãe adorada em seu terreiro não são válidas fora, tampouco sua autoridade calunduzeira lhe confere vantagem no espaço público moderno, nem mesmo faz sentido conceitual pensar em um espaço público integrado ao espaço doméstico de um terreiro. Este é um ponto que a Mãe de Santo e pesquisadora Juana Elbein do Santos (1982) enfatizou, a partir de polêmica travada com Pierre Verger sobre afrorreligiosidade brasileira, explanando que esta separação entre o que existe, se conhece, pensa ou teoriza, fora e dentro dos muros do Candomblé, é abissal. Assim, o prestígio que uma Mãe pode alcançar no mundo externo ao seu Candomblé, junto a não adeptos, não tem relação com sua afrorreligiosidade, mas com questões de eventual interesse político exterior.
Cabe ainda ponderar que terreiros tendem a ser bem integrados às suas vizinhanças e a manter relações diferenciadas com elas em comparação com outros locais de suas cidades. As vizinhanças pertencem ao espaço público, mas também a um círculo de influência e vínculos próximos com o terreiro, em que o prestígio da Mãe de Santo e o de seu Candomblé podem ter valia, o que não se compara com locais mais distantes. Ou seja, a vizinhança é um plano em que a domesticidade dos terreiros também se manifesta. Há na bibliografia, autores que afirmam que as vizinhanças se misturam com o terreiro, geralmente por definirem a comunidade a partir de suas relações políticas; outros autores, compatíveis com a perspectiva deste artigo, que definem a comunidade não a estendendo para além da família de santo, ainda que sejam inegáveis a boa convivência de comunidades afrorreligiosas e suas vizinhanças.
A administração da área física de cada terreiro permite contextualizar, limitar, significar os sujeitos que o frequentam, tudo que ali ocorre (Posada 2010). Ainda que auxiliada por outras mulheres e homens, será a Mãe de Santo que terá a palavra final sobre sua comunidade, distribuirá os demais cargos, podendo executar todas as atividades, exceto algumas ritualísticas desempenhadas exclusivamente por homens. Será, não obstante, ela que atribuirá tarefas aos homens, além de iniciar novos ogans e ser a zeladora da vida espiritual da comunidade —situação completamente adversa à gestão do poder no mundo patriarcal.
Embora ocupem o mesmo cargo que os Pais de Santo (cada um em seu terreiro), Mães devem ser diferenciadas desses justamente pelas marcas de socialização e formação. Como mulheres candomblecistas, seu caminho iniciático frequentemente envolve uma constante presença no espaço doméstico (o que não implica em clausura ou impossibilidade de ocupar espaços externos ao terreiro),15 tarefas que são aí executadas e a ocupação de cargos de respeito voltados ao cuidado de artefatos do espaço doméstico. Homens candomblecistas, por outro lado, ogans e rodantes, recebem tarefas que, frequentemente, envolvem maiores interações com o espaço público interno e externo. Com isso, mulheres se constroem como lideranças com maior presença, especialização e sensibilidade nas questões do espaço doméstico (Nogueira 2017).
Como Mães ou Pais de Santo, essas diferenças têm pouco ou nenhum impacto ritual. Com efeito, Segato (2005) sugere que esses cargos podem ser pensados como andróginos. Tata Kisange (Nilo Nogueira) —renomado militante afrorreligioso e ogan do Candomblé Angola em Minas Gerais, Brasil, de grande respeito nacional— foi mais longe e disse que o papel de um Pai é ser uma Mãe de Santo. Aproxima-se, com isso, de Landes (1994). As diferenças entre uma Mãe e um Pai de Santo terão, todavia, grande significância para o desenvolvimento das relações políticas internas e externas das comunidades e da valorização do doméstico em oposição ao público, ou o contrário.
Comentando sobre o lugar de liderança máxima ocupado por uma Mãe na comunidade candomblecista, Bernardo (2005) e Bastos (2011) chamam a atenção para o fato de ser uma possibilidade quase exclusiva de religiões afro-brasileiras. Bernardo (2005: 1) é enfática ao afirmar que em “todas as sociedades conhecidas é o homem que detém o poder religioso. É ele quem faz a mediação entre os ‘outros’ e os deuses”. Isso torna as Mães, reitera Bastos, mulheres únicas.
A liderança maior e as famílias de santo
Landes (1994) documentou, na década de 1930, massiva presença de mulheres em cargos de liderança religiosa nos terreiros de Salvador, mesmo que também houvesse Pais de Santo. O dado chama a atenção, sobretudo para uma cidade colonial/moderna brasileira do início do século xx e mais ainda ao se considerar que esta já era uma realidade longeva nos Calundus.
Diferentes razões podem ser elencadas para a consolidação dessa liderança feminina nas comunidades. Algumas têm relação com heranças africanas e outras com o contexto escravocrata brasileiro. No que se refere às razões africanas, tanto mulheres oeste-africanas, de diversas etnias (Verger 1985; Bernardo 2005), quanto centro-africanas (Bernardo 2005; Martini 2007) eram ótimas comerciantes. Mantiveram tal atuação no Brasil, trabalhando como escravas quitandeiras, ganhadeiras etc. e, após a abolição, atuando também em mercados (Verger 1985; Bernardo 2005; Martini 2007; Santos 2009). Ademais, Silveira (2006) lembra que mulheres podiam exercer cargos altos nos palácios imperiais iorubanos e, entre os daomeanos (hoje povo do Benim), podiam formar tropas e ir à guerra —algo já quase impossível no colonial-moderno Estado brasileiro, ainda que as mulheres negras sigam trabalhando em mercados e outros serviços. As africanas não correspondiam à representação sexista colonial/moderna do “sexo frágil”, ou à de dependentes de homens para a sua existência.
No que tange à predominância de mulheres nos cultos Ketu, lembramos que essa nação herdou a linguagem ritual calunduzeira angoleira-jeje existente previamente no Brasil e apresentou inovações próprias, adequadas a seus contextos. Apesar de argumentos africanistas contrários, nagocêntricos e outros, o Candomblé é brasileiro e mais influenciado pelo contexto sócio-histórico local que pelo africano (Nogueira 2019; Nascimento 2020). Mas Iyá Nassô —cargo feminino feito nome da Mãe fundadora da nação Ketu, que acumulava o cargo de Iyalodê, a líder das Gèlèdés, uma organização secreta feminina político-religiosa yorubano-brasileira—, que ergueu o Candomblé da Barroquinha, hoje Casa Branca, iniciou sua tradição apenas admitindo mulheres como rodantes em seu terreiro. Ademais, junto às suas companheiras Gèlèdés, que criaram a ainda existente negra católica16 Confraria (posterior Irmandade) da Boa Morte, teve atuação central no século xix, na compra da alforria de africanas escravizadas, que viriam a se juntar a seu terreiro (Silveira 2006) —algo que pode ser entendido como redes estratégicas e intencionais de mulheres auxiliando a outras mulheres, muito antes das ações feministas e de movimentos sociais modernos de apoio e defesa das mulheres.
Os mitos dos orixás, repassados pelas comunidades de terreiro, também são uma fonte fértil de indicação de lugares privilegiados das mulheres, ou do feminino, nos Calundus. Não há submissão das deusas aos deuses —todas e todos gozam do mesmo axé. Por conseguinte, não há submissão do feminino ao masculino, da mulher ao homem (Segato 2005; Bastos 2011). Parafraseando alguns destes mitos, Werneck (2005) lembra que a tradição oral dos terreiros dá conta de mulheres exercendo liderança religiosa, cultural etc., há muitas gerações, ainda na África, antes da diáspora. Essa atuação foi ressignificada no Brasil, a partir da experiência violenta da escravidão, em que mulheres negras exerceram papéis relevantes na resistência e luta pela liberdade. Mesmo com as novas orientações afro-brasileiras, um modelo orientador de uma África que resiste nos terreiros, algo nostálgica e mítica, ainda orienta as sociabilidades de comunidades negras e de terreiros, fomentando mulheres como grandes líderes (Werneck 2005).
Do lado das razões ligadas ao contexto escravocrata brasileiro, mulheres afrorreligiosas sempre souberam transitar pelas fissuras da estrutura social. Bastos (2011) explica que a dinâmica do contexto colonial e as possibilidades apresentadas às africanas —como dito, boas comerciantes, quitandeiras e ganhadeiras— favoreceram a alforria de mulheres em maior quantidade que de homens. Compravam sua própria liberdade e de outras mulheres, o que também era aceito com menor dificuldade pelos senhores, que muitas vezes pouco se importavam com sua liberdade, por serem as mulheres escravas menos demandadas à labuta dos engenhos e da mineração que os homens.
Além disso, ex-escravas tiveram mais oportunidades de trabalho que ex-escravos após a abolição no Brasil. Homens foram substituídos pelos imigrantes europeus com a política de branqueamento da raça, posta em marcha sob a coroa de Pedro I (Silveira 2006). Com trabalho e renda, mulheres tinham mais disponibilidade financeira para a prática religiosa (Bastos 2011). Todos esses fatores, somados ao enfrentamento à escravidão e à colonial modernidade brasileira (Segato 2005; Silveira 2006, Santos 2009), contribuíram para a sua centralidade nas comunidades.
Finalmente, Pai Guiné de Aruanda oferece uma explicação a mais, êmica, para o tema. Em suas palavras metafóricas dirigidas ao primeiro autor, irretorquíveis por advir de um mentor espiritual: “sem mãe não há filho”, pois, “homem não pode ter filho” —o que reforça a importância ritual do sexo biológico, independentemente de identidades de gênero, mas principalmente aponta para o fato de que homem não forma comunidade, não constitui a politicidade doméstica necessária a um projeto coletivo fora dos parâmetros do individualismo colonial e moderno. Assim, “Candomblé só existe com Mãe de Santo” e mesmo um terreiro formado só por homens que saibam “tocar Candomblé” terá uma Mãe por trás desses homens, vinculando-os como uma família de santo.
É a família de santo, finalmente, que conforma a experiência calunduzeira, original e decolonial, que é a comunidade de terreiro. Foi a inteligência política, a sensibilidade, a perspicácia, o acolhimento e o axé das Mães de Santo a força motriz por trás de um processo coletivo de (re)existência afro-brasileira, gestado em condições extremamente adversas, durante mais de 350 anos de escravidão oficial, e mais de outro século ainda de ininterruptas opressões raciais, de gênero e outras. Assim, erigiram-se as condições para que a afrorreligiosidade se constituísse no Brasil, no veio calunduzeiro, o qual a colonial/modernidade jamais foi capaz de cooptar ou mesmo chegar a entender completamente. Sem mãe não haveria filho, sem sangue escravo negro —e a tragédia humana que isso significa— não haveria o Brasil, e sem as Mães de Santo e suas filhas calunduzeiras não haveria afrorreligiosidade tal qual a conhecemos. A matriz calunduzeira é afro-diaspórica, a comunidade de terreiro é a sua expressão sócio-histórico-política máxima.
Notas conclusivas
Argumentamos no presente texto pela centralidade histórica das Mães de Santo e das calunduzeiras na estruturação das religiões afro-brasileiras, particularmente, do Candomblé. Essa centralidade tem relação com a tragédia histórica e diaspórica que trouxe africanos escravizados ao Brasil e impôs-lhes condições que acabaram por se mostrar propícias à atualização da afrorreligiosidade em termos próprios nas terras brasileiras e latino-americanas. Com isso, as Mães mantiveram sua longeva posição de respeito como lideranças religiosas e se tornaram, também, expressões comunitárias em perspectiva feminista decolonial.
Atualmente, ao passo que as Mães e outras calunduzeiras seguem merecedoras do mesmo prestígio construído por longo tempo, parecem existir cada vez em menor número. Homens vêm assumindo o papel de regentes dos terreiros, de Pais de Santo, em um movimento recente e ainda não mensurado na vivência prática e nos estudos, mas inegável —e confirmado, inclusive, por Pai Guiné de Aruanda. Esse fato não apaga, todavia, a história revisitada e debatida ao longo deste artigo, as suas interrelações e as marcas feministas que deixa sobre a tradição afrorreligiosa brasileira.
Por meio de um diálogo cruzado entre uma pluralidade de vozes (acadêmica, Mães de Santo, entidade espiritual e dados etnográficos), este artigo apresenta concepções e vivências do feminino, do masculino e da sexualidade que gravitam em torno de outro eixo que não a dominação hierárquica e desigual da ordem racial, de gênero e econômica do
mundo colonial/moderno ocidental. Embora mostre a conformidade
do desempenho dos papéis rituais com o dimorfismo sexual (coisas, atividades e tabus só de mulheres frente àqueles só de homens, assim definidos com exclusividade pela genitália), esta não é impeditiva da grande fluidez e amplitude nas configurações da personalidade das calunduzeiras, dos mitos, da família de santo, da sexualidade e do exercício da liderança pelas mulheres, prestigiadas e com autoridade no contexto afrorreligioso.
Nesse plano, encontra-se o numinoso da existência metafísica que não se deixa capturar, transgrede imagens chapadas sobre o eu e o outro, colocando-se em um tempo híbrido entre passado, presente e futuro que permite a tradição se tornar restauradora da vida, alheia ao status quo vigente e (re)lançadora da esperança enquanto um projeto heterotópico em construção. Na linguagem de fundo religioso, que rompe com o que se concebe por “natureza das coisas” pela ótica dominante através desse projeto anti-hegemônico, encontra-se o impulso motriz do transcendente: a transformação local ao se ter gênero enquanto codificação e regras estruturadas arbitrariamente longe da anatomia dos corpos. Ou seja, mulheres, negras e pobres ali não estão fadadas ao destino de subalternidade e passividade. A sociabilidade e a convivência nessas comunidades passam a estar, então, livres ao nomadismo das identidades, à ampliação das possibilidades amorosas e à realização da pluralidade humana. Haja vista que esse potente códice afro-brasileiro ganhou mundo e se refez em terreiros também fora do Brasil.
Ao colocar-se em ato, a simbólica afrorreligiosa, gestada neste continente, se materializa e é ressignificada na história dos Calundus em curso. Essa potência de (re)criar realidades apresenta os símbolos em sua atuação de demiurgo, a qual só se torna visível se não for borrada pela excessiva hermenêutica sociocultural do fazer socioantropológico, que reduz significados atribuídos ao fenômeno ao tratar o outro como objeto. Neste artigo, a partir da inscrição textual de autoridades de falas que são habitualmente vistas como meras representações de um imaginário a ser desvendado, bem como de vivências, memórias e afetos dos autores nesse campo, buscamos abalar a cisão científica entre nós-eles na produção do conhecimento e no seu registro.
Se o tratamento conferido pelas primeiras pesquisadoras aos Calundus a partir dos anos 1930 mostrou a importância de se falar de questões afeitas às relações entre mulheres e homens, começando a desnaturalizá-las em momento que praticamente não se abordava gênero na América Latina e o tema era incipiente no mundo, mais uma vez esse universo possibilita abrir novas indagações, sensibilidades e escrituras em perspectivas desconstrucionista e decolonial. Mesmo que hoje um refinado vocabulário esteja disponível para abordar gênero enquanto um complexo performático em várias e dinâmicas camadas biopsíquico-sexual-sociocultural e espiritual, interrelacionadas entre si e interseccionadas com raça, classe e outros marcadores sociais, o vanguardismo das mulheres nos terreiros segue com ensinamentos a serem compreendidos e praticados nos artefatos socioantropológicos.
Afinal, essa experiência fecunda e eficaz, epistêmica, teórica e política dos terreiros revela a insurgência às opressões em estado puro e mostra que o posicionamento crítico não é exclusivo da academia branca eurocêntrica nem do ativismo feminista institucional no empenho pela equidade de gêneros e justiça social. A “missão civilizatória” que estes se arrogam frente a grupos ditos precarizados está de longe em condições de ser a única porta libertária.
Bibliografia
Almeida, Tânia. “Apresentação”. Revista Calundu 1 (2017): 1-6.
Almeida, Tânia. “Entre naturalezas insurgentes: el pensamiento de Rita Segato y el Xangô de Recife”. Julia Antivilo. (org.). Trayectorias del pensamiento feminista en América Latina. México: unam, 2022. 55-64.
Andreson, Jamie. “Ruth Landes e Edison Carneiro: matriarcado e etnografia nos candomblés da Bahia (1938-9)”. Revista de História da ueg 2.1 (2013): 236-261.
Bastos, Ivana. “Mulheres Iabás”: Liderança, Sexualidade e Transgressão no Candomblé. Dissertação de Mestrado em Sociologia. João Pessoa: ufpb, 2011.
Bernardo, Teresinha. “O Candomblé e o Poder Feminino”. Revista de Estudos da Religião 2 (2005): 1-21.
Birman, Patrícia. Fazer estilo criando gêneros: possessão e diferenças de gênero em terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro. Río de Janeiro: uerg, 1995.
Botelho, Denise; Wanderson Nascimento. “Educação e religiosidades afro-brasileiras: a experiência dos Candomblés”. Participação 17 (2010): 74-82.
Brasil. Decreto-Lei 1.202, de 08 de abril de 1939. Río de Janeiro, df. Abril, 1939.
Carneiro, Edison. Candomblés da Bahia. Río de Janeiro: Tecnoprint Gráfica, 1969.
Carvalho, José. “A Tradição Mística Afro-Brasileira”. Série Antropologia 238 (1998): 1-29.
Carvalho, José. “Antropologia: saber acadêmico e experiência iniciática”. Anuário Antropológico 1990 (1993): 91-107.
Hita, Maria. A casa das mulheres n’outro terreiro: famílias matriarcais em Salvador-BA. Salvador: edufba, 2014.
Landes, Ruth. The City of Women. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1994.
Lima, Fábio. “Revisitando a Cidade das Mulheres”. xxvii Encontro Anual da Anpocs. anpocs. Caxambu: anpocs, 2003.
Martini, Gerlaine. Baianas do Acarajé: a uniformização do típico em uma tradição culinária afro-brasileira. Tese de doutorado. Brasília: UnB, 2007.
Nascimento, Wanderson. “Alimentação socializante: notas acerca da experiência do pensamento tradicional africano”. Das Questões 2 (2015): 62-74.
Nascimento, Wanderson. “Corporalidades em Abertura: os Candomblés e percursos da resistência incorporada”. Humanidades & Inovação 7.25 (2020): 78-87.
Nogueira, Guilherme. “Na minha casa mando eu” – mães de santo, comunidades de terreiro e Estado. Tese de doutorado. Brasília: Universidade de Brasília, 2019.
Nogueira, Guilherme. “Tradição calunduzeira: um conceito diaspórico”. Arquivos do cmd 8. 2 (2019): 78-91.
Nogueira, Guilherme. “Faxinando com a Vodunsi”. Revista Calundu 1 (2017): 37-50.
Nogueira, Guilherme. “O tempo e seu caráter relacional: ensaio de um aprendizado com um preto-velho”. I Jornada de Estudos Negros na UnB. Brasília: UnB, 2016.
Nogueira, Guilherme. Comunidades de Terreiro na Argentina. 2014, xxf. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais–Estudos Comparados sobre as Américas). Brasília: Universidade de Brasília, 2014.
Posada, Jorge. “Historia de los espacios, historia de los poderes: hacia una genealogía de la noción de espacio público”. Revista de Humanidades Tabula Rasa 13 (2010): 93-109.
Rufer, Mario. “Staat, Gewalt und postkoloniale Lage: Betrachtungen aus Mexiko”. Anne Huffschmid, Wolf-Dieter Vogel, Nana Heidhues y Michael Krämer (eds.). TerrorZones. Gewalt und Gegenwehr in Lateinamerika. Berlin: Assoziation A, 2015.
Santos, Edmar. O poder dos candomblés: perseguição e resistência no Recôncavo da Bahia. Salvador: edufba, 2009.
Santos, Juana. “Pierre Verger e os Resíduos Coloniais: o outro fragmentado”. Religião e Sociedade 8 (1982): 11-14.
Segato, Rita. “Uma agenda de ações afirmativas para as mulheres indígenas do Brasil”. Série Antropología 326 (2003): 1-79.
Segato, Rita. A Folk Theory of Personality Types: Gods and their Symbolic Representation by Members of the Sango Cult in Recife. Brazil. Tese de Doutorado. Belfast: The Queen’s University of Belfast, 1984.
Segato, Rita. Santos e Daimones. Brasília: Ed. UnB, 2005.
Silveira, Renato. O Candomblé da Barroquinha: processo de constituição do primeiro terreiro baiano de Keto. Salvador: Edições Maianga, 2006.
Souza, Laura. “Revistando o Calundu”. Gorenstein, L., Carneiro, M. (org.). Ensaios sobre a intolerância: Inquisição, Marranismo e Anti-Semitismo. SP: Humanitas, 2002. 293-317.
Verger, Pierre. “A contribuição especial das mulheres ao candomblé do Brasil”. Culturas Africanas: As sobrevivências das Tradições Religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina. São Luís do Maranhão: unesco, 1985. 272-290.
Werneck, Jurema. “Ialodês et féministes Réflexions sur l’action politique des femmes noires en Amérique latine et aux Caraïbes”. Nouvelles Questions Féministes 2 (2005): 33-49.
1 Universidad de Harvard, Estados Unidos (guidantasnog@gmail.com).
2 Universidad de Brasilia, Brasil (taniamaraunb@gmail.com).
3 Orientação afro-brasileira que determinada forma de culto possui, o que passa por idiomas africanos nos templos e rituais, mitologias etc. São três as nações mais conhecidas: Angola, cuja principal raiz africana advém dos cultos centro-africanos; Jeje, dos daomeanos; e Ketu, dos iorubanos. Embora orientadas a uma noção de África que (re)existe no Brasil, as nações são afro-brasileiras, oriundas do longo processo iniciado com os Calundus coloniais (Nogueira 2019).
4 Primeira capital do Brasil, atual capital do estado da Bahia.
5 Homem em processo iniciático para tornar-se destacada figura candomblecista (ogan). Na prática, potencial religioso a se confirmar, mas possui respeito nos Candomblés. A estratégia de se aproximar de homens influentes foi utilizada por Mães como meio de recrutá-los a proteger seus terreiros.
6 Conselheira do Presidente Getúlio Vargas, que o teria influenciado a incluir, no Decreto-Lei 1.202, 08/04/1939 (Brasil, 1939), dispositivo que vedava estados e municípios de “estabelecer, subvencionar ou embargar o exercício de cultos religiosos”, garantindo a livre prática religiosa pelo país, já constitucionalmente prevista.
7 Terreiro famoso, que recebeu e iniciou pesquisadores. Por exemplo, Mãe Senhora, que substituiu Mãe Bada na regência do terreiro, foi a Mãe de Santo de Pierre Verger.
8 Família formada por pessoas iniciadas em uma mesma linhagem religiosa.
9 Trata-se de um iniciado a Ifá, a “deidade do destino”.
10 A indicação de maioria e não totalidade neste registro deriva de atuais incursões em campo. Os autores conhecem Mães de Santo que não jogam búzios e cooficiam com babalaôs ou, em raros casos, com ogans que jogam búzios. Não se trata de regra nos Candomblés, mas de situação que ainda existe.
11 Orixás são as divindades da nação Ketu. Inquices, da Angola. E voduns, da Jeje.
12 Não é tabu homens rodantes, embora os terreiros destacados por Landes optassem por não o fazer.
13 Há relatos de subversão também desta regra, sobretudo após as atuais cirurgias de mudança de sexo, mas estes são recentes e polêmicos entre candomblecistas. A regra é que o sexo biológico orienta papéis religiosos, jamais a orientação sexual e identidade de gênero.
14 O assentamento é um objeto físico, preparado ritualmente, que materializa no terreiro o inquice/vodun/orixá.
15 A exemplo da pré-candidatura à vereança em Belo Horizonte, de Makota Cássia Kidoiale (Kilombo Manzo) em agosto de 2020.
16 Organizações de pessoas, escravizadas ou não, se davam a partir dos limites e instituições impostos pela Igreja católica no Brasil colonial.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.